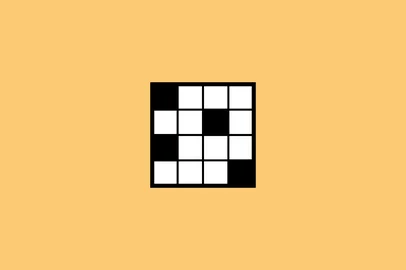Morreu o Divaldo. Morreu o Mujica. Morreu a Nana. Morre gente hoje, morreu ontem. Vai morrer amanhã também. Sem fim, infinitamente. Até o fim de tudo. Até ninguém mais noticiar que se morre.
O poeta cuiabano Manoel de Barros, já morto, escreveu um punhado de poemas com o aroma do alvorecer. Sempre agarrado à desimportância, teceu também versos sobre a morte:
“As coisas mais sem importância são as que mais nos tocam.
Queira ver: um arinho no ar, uma pedra no chão.
A morte está nelas também, disfarçada.”
E qual seria o disfarce da morte? Um silencioso infarto? Um atropelamento fugaz? Não importa, o disfarce está sempre vestido de vida. O disfarce floresce, voa por aí, sorri, ama, acaricia.
Monges? Padres? Bispos? Médiuns? Todos morrem. Uns acreditam que reencarnam numa nova vida, noutra vibração. Até o dia da próxima morte bater à porta, seja pela mão de um torturador, em porões escuros, ou de falência geral e irrestrita dos órgãos, gerando demência, bagunçando as memórias.
Seja por força do opressor ou pelo colapso biológico, a morte é iminente. Ninguém escapa. Esquivar-se da morte, como num drible desconcertante, por milagre, acaso ou sorte, pouco importa, é só um despiste, um golpe, ledo engano.
A morte, impávida, há sempre de vencer, há sempre de sentenciar a vida à foice, imponderável diante da frágil existência. Somos infinitos até virarmos pó. E, depois, vem o quê? Uma nova vida? O o ao paraíso? Padecer no inferno? Virar estrela? Pouco importa. Foi-se. Fim. Game over.
Com ou sem demência, suprimindo ou não o Alzheimer ou a dor intermitente que embaralha as lembranças, um dia, todos nos esqueceremos de quem fomos ou do que serviu viver por tanto tempo (seja pelo tempo que for). Vamos nos esquecer do tom de voz dos que morreram, do seu perfume, do seu sorriso. Nem mesmo do olhar vamos nos lembrar, porque a finitude embaralha a visão.
Fernando Pessoa, poeta português já morto, fantasiado de Ricardo Reis, ensinou que “a morte é natural; morrer é o que se fez / Em todo o tempo”. E depois disso, “O sol continua a brilhar, / E o dia que amanhã vier será o mesmo / Que hoje foi e ontem”. O poema se encerra com uma sugestão de lápide (mesmo que virtual):
“E se alguém, por acaso,
Quiser lembrar que eu vivi um dia,
Que o faça não dizendo nada,
Mas que a árvore floresça,
E o rio corra, e a pedra aqueça ao sol”.
Pois é. Não importa quando, todos vamos morrer – menos as pedras.